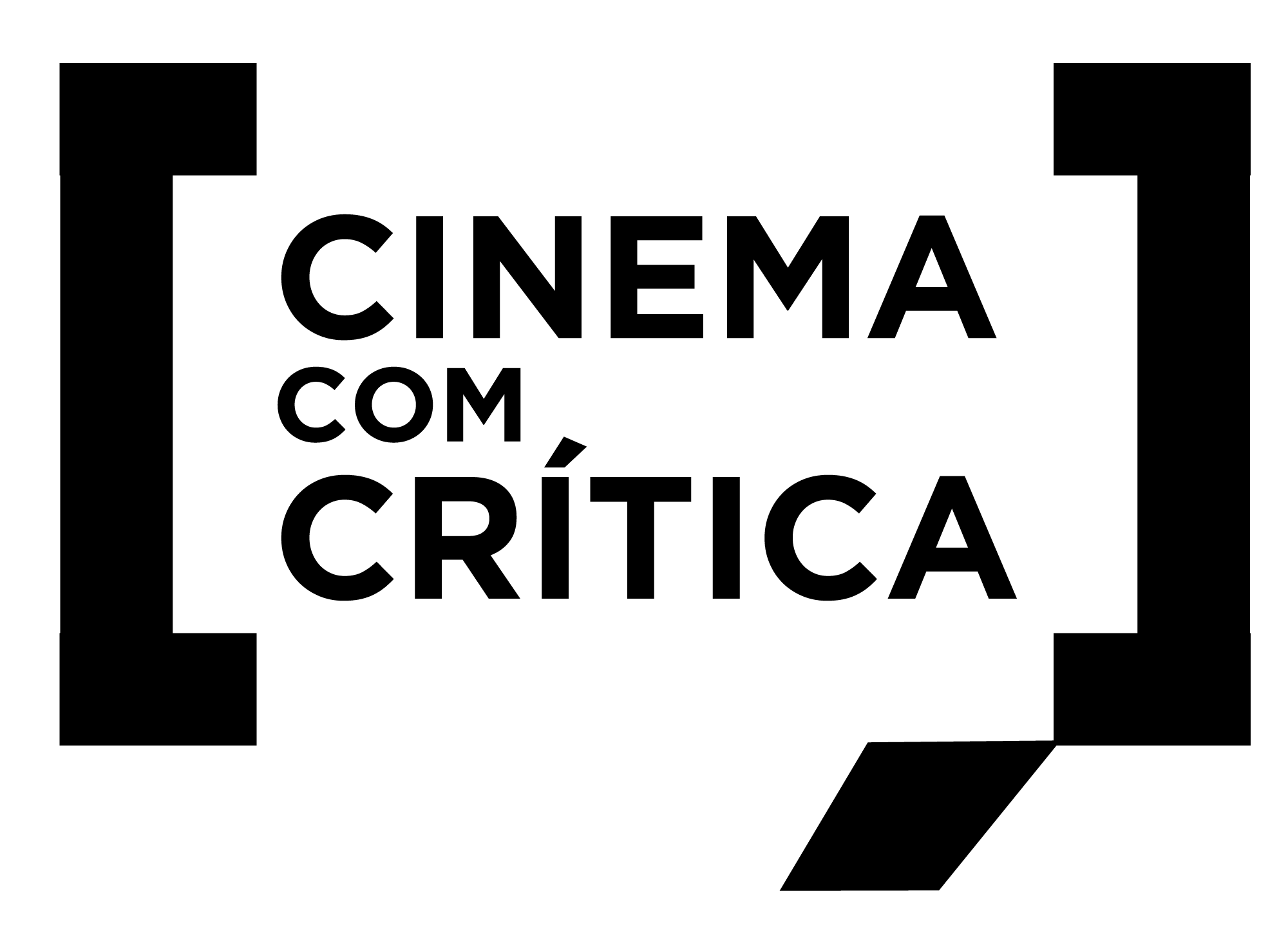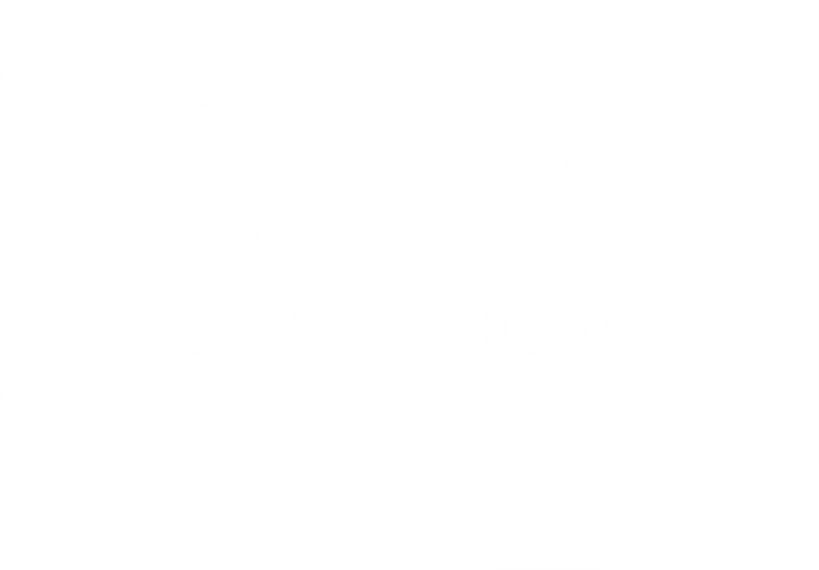A Flor do Buriti traz às telas pela segunda vez o povo Krahô (Os diretores tiveram essa primeira experiência com A Chuva é a Cantoria na Terra dos Mortos, em 2018). Aqui vemos os indígenas da aldeia Pedra Branca lutar pelo reconhecimento de suas terras e pela própria existência em três linhas temporais diferentes. Enquanto o presente traz a participação dos protagonistas Pratpro e Hyjno nos protestos em Brasília, o passado doloroso é resgatado da memória e garantindo seu registro.
É interessante a escolha feita em A Flor do Buriti em trazer uma estrutura mista de documentário e ficção. Ora estamos observando o cotidiano daquelas pessoas e momentos ordinários e cruciais de suas jornadas, ora os eventos são encenados para revelar a memória do sofrimento que só reside – e resiste – no lado oprimido. Ambas trazem consigo uma poesia única desde sua captura até sua exibição, e mesclam vida e morte na mesma película.

A primeira cena do filme já dita o tom do que virá a ser a reconstrução da memória. Nela, vemos duas crianças avistando um boi invadindo as terras da aldeia. Mais que um presságio, a chegada do animal é como um cavalo de Tróia e, ao mesmo tempo, uma bomba que irá explodir. Uma das crianças exige a mais nova, no alto de uma árvore, que dispare uma flecha no olho do animal. A câmera se posiciona de frente para a flecha e nos colocando devidamente no lugar de invasores.
Na encenação do massacre, enxergamos de dentro da aldeia, como uma terceira criança em fuga. Sentimos o desespero através do som diegético do que ocorre fora de campo. Ainda que reconstrua o evento conferindo realidade documental, o filme não se presta a fazer daquele um circo de horrores, apelando para o fetichismo da violência. A câmera também nos oferece deslumbrar aquela memória através de uma transcrição da oralidade, novamente conferindo um tom alegórico ao filme.
Em contraponto à limpeza étnica, o filme nos oferece um nascimento. O registro de um parto com o acolhimento de todas as mulheres daquela comunidade só foi possível devido a permanência da equipe de filmagens ao longo de quinze meses dentro da aldeia. E é alternando entre encenações e filmagens do cotidiano que A Flor do Buriti nos aproxima do povo Krahô.

Nessa narrativa onde a realidade e a encenação andam de mãos dadas, a luta dos povos originários acontece de diferentes maneiras. Seus costumes, crenças, histórias e ancestralidade fazem parte dessa manutenção diária da própria sobrevivência. Mas o deslocamento ao centro do poder político do país para reivindicar os seus direitos e a posse de suas terras é outro capítulo dessa guerra de muitas luas. Denuncia também os absurdos nos bastidores da formatura da primeira turma da Guarda Rural Indígena (GRIN), criada pelos militares durante a Ditadura Militar no Brasil. Esse último elemento ainda traz imagens de arquivo até então perdidas / escanteadas durante esse momento execrável da história do país.
Ainda que nos aproxime dessas pessoas, deve-se deixar claro que A Flor do Buriti não é uma obra construída plenamente sob o olhar indígena. Ambos os profissionais que assinam a direção são cupês, ou seja, pessoas brancas. Renée Nader Messora é uma diretora brasileira, enquanto João Salaviza é de nacionalidade portuguesa. Mas o que deve ser destacado é que apesar do olhar estrangeiro dos diretores, a sua obra não se envereda a um cinema etnográfico. Pelo contrário! Até mesmo a construção temporal da narrativa foge da linearidade, onde em alguns momentos nos deparamos com um registro de tempo que nos é estranho, e que muitas vezes parece se repetir, como se caminhasse em ciclos ou, simplesmente, estagnasse. Também existe uma poética fantástica no reconstruir a história sobre o buriti, a árvore que nomeia o filme. Tudo isso confere novas camadas de legitimidade à obra.

A Flor do Buriti foi ovacionado em sua exibição no Festival de Cannes e recebeu o prêmio Um Certo Olhar (Un Certain Regard). Além de nos aproximar de uma narrativa indígena, o filme ainda leva a voz dos povos originários e suas reinvindicações para o resto do mundo. Pois o coro das nações originárias traz consigo mais do que um manifesto pela defesa da própria existência, mas também de proteção ao meio ambiente. E vale destacar a ironia que existe na figura do indígena brasileiro ser aplaudido de pé pela branquitude do velho continente, naquela mesma terra longínqua de onde vieram os invasores.

JORNALISTA E PUBLICITÁRIO. Cresceu no ambiente da videolocadora de bairro, onde teve seu primeiro emprego. Ávido colecionador de mídia física, reune mais de 3 mil títulos na sua coleção. Já participou de produções audiovisuais independentes, na captura de som e na produção de trilha musical. Hoje, escreve críticas de filmes pro site do Cinema com Crítica e é responsável pela editoração das apostilas do Clube do Crítico. Em 2025, criou seu perfil, Cria de Locadora, para comentar cinema em diversos formatos.