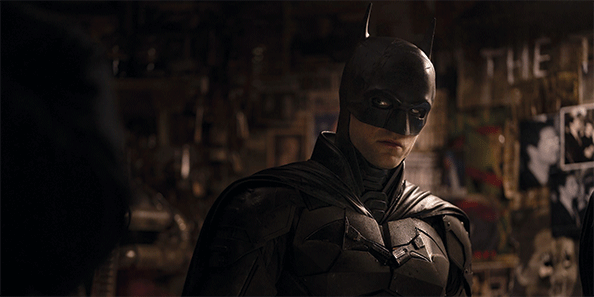Depois do desastroso “Esquadrão Suicida”, o público em geral e parte dos críticos concordaram que o que havia de melhor na equipe improvisada de supervilões era a divertidamente anárquica personagem interpretada por Margot Robbie, tanto que antes de a Warner cogitar a sequência que viria a ser escrita e dirigida por James Gunn, planejou um spin-off encabeçado por sua Arlequina e as Aves de Rapina, um time de super-heroínas das HQs formada por Canário Negro, Caçadora e Renee Montoya. O resultado, por mais que não seja empolgante quando a entrega de Margot à personagem, figura como um entretenimento ágil e passável, ainda que narrativamente bagunçado.
A bagunça é justificada pela personalidade da narradora, cuja incapacidade de permanecer em foco por mais de dois segundos em uma situação de vida ou morte é motivo de piada metalinguística por uma de suas companheiras. Assim, analisando o roteiro de Christina Hodson (de “Bumblebee” e do vindouro “The Flash”), é possível perceber que a autora esforça-se em mascarar a trama simples – um eufemismo, pois para isto precisaria de muito mais estofo – dentro da estrutura conturbada saída da cabeça da Arlequina. Ela começa dos primórdios – mesmo! -, recontando a história de origem que havíamos visto no filme de 2016 – só que em versão animada –, seu relacionamento literalmente tóxico com o Coringa e seu status atual, sobrevivendo nas ruas graças ao pingente que carrega no pescoço e que lhe confere imunidade. Inclusive, sabe-se lá de que maneira, a Arlequina conhece a história dos demais personagens, embaralhando passado e presente em uma estrutura que vai e vem até que todos estarem na mesma página.
Para simplificar: enquanto o mafioso Roman Sionis (McGregor), com ajuda do braço direito Zsasz (Messina), deseja colocar as mãos, digo luvas no diamante onde está indicada a localização de uma fortuna, para consolidar seu império de crime em Gotham, as Aves de Rapina têm alguma razão para elegê-lo seu inimigo número um: vingança (Caçadora), trabalho (Renee), conveniência (Canário Negro) e sobrevivência (Arlequina). Afora este ponto em comum, elas também se unem a fim de proteger a batedora de carteiras Cassandra Cain (Basco).
A trivialidade do roteiro não significa que não haja um visível entusiasmo da diretora Cathy Yan em azeitar a narrativa com os excessos de sua protagonista – que chega a adotar uma hiena! – e de Roman, o qual, por mais que seja um adversário apático ao não oferecer um desafio à altura das (anti-) heroínas, apresenta nuances intrigantes, pois aparentemente contraditórias. A principal delas é seu fascínio por máscaras, que poderia sugerir alguém inconformado com a própria imagem, quando Roman, do contrário, é um narcisista por natureza, como revela facilmente a direção de arte histórica de seu apartamento. A sensação é a de que Roman tem este fetiche por causa de Zsasz – cujo hábito de esfolar a face equipara-o ao Leatherface de “O Massacre da Serra Elétrica”. Ou o contrário, este faça isso para agradar o chefe, por ser mais amante do que um mero capanga, como revelam os indícios narrativos que, porém, são deixados de lado no terceiro ato.
Muito também é ignorado por uma narrativa que tenta cumprir duas tarefas simultaneamente, sem o êxito desejado em nenhuma: servir de história de origem para ao menos três super-heroínas debutantes no cinema E reintroduzir a Arlequina fora da sombra do Coringa. Se não existem maiores novidades em sua emancipação a ponto de justificar tamanha ênfase na personagem – cuja vocação é mais roubar a cena como coadjuvante do que em ser uma âncora, quando seu estilo de humor começa a ser exaustivo –, a narrativa também permanece no lugar-comum ao apresentar cada personagem, esquecendo-se de preencher as lacunas que ajudem a estabelecê-las. O melhor exemplo é a meta-humana Canário Negro, ‘promovida’ de cantora à motorista por sua habilidade de defesa pessoal (Oi?) e cujo desenvolvimento é restrito a um breve (e revelador) diálogo com Renee, em que aprendemos de quem herdou seu superpoder e os eventos que sucederam para que hostilizasse a mesma polícia para a qual agora recorre quando precisa ajudar Cassandra.
Cathy também não é experiente em sequências de ação e, por mais que eu aprecie o combo humor ácido, irreverência e violência – similar a “Deadpool”, mas com individualidades próprias a ponto de ser diferente – e as acrobacias praticadas por Margot Robbie (ou sua dublê), a diretora comete o pecado de Zack Snyder em exagerar na câmera lenta como uma ferramenta estilística para realçar seu próprio trabalho. Até porque já lhe bastaria a opção adotada por planos abertos com cortes oportunos, no lugar de planos fechados e da montagem picotada, que tendem a ser artifícios para mascarar trabalhos preguiçosos de coreografia e direção. O que não é o caso.
De outro modo, a fotografia vibrante de Matthew Libatique e a inserção de legendas e imagens em pós-produção conferem ímpar personalidade e exuberância, separando a narrativa da esmagadora maioria das produções do subgênero (ou sombrias demais, como já foram as da DC, ou chapadas e não atraentes, como em regra são as da Marvel e estão sendo as mais novas da rival). Aliás, a sequência final em uma casa mal assombrada só não será uma de minhas favoritas por se passar a noite, não de dia, quando não podemos aproveitar tão bem as matizes do ótimo design de produção.
Com as atuações pitorescas e hiperbólicas que desejávamos de Margot Robbie e Ewan McGregor – descontados os prós e contras de serem cartunescos em demasia como as animações da Looney Tunes da Warner –, as participações mais discretas de Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell e Rosie Perez e a estreia da talentosa Ella Jay Basco, “Aves de Rapina” peca, porém, por desperdiçar sua equipe criativa feminina em um discurso raso de representatividade e machismo institucionalizado, que não provoca quem deveria provocar, por ser óbvia e pontual sua mensagem, e nem empurra adiante a justa luta por igualdade de direitos e respeito entre gêneros…
Corrijo-me: apenas por existir, “Aves de Rapina” é um passo significativo dentro de um subgênero deveras masculino. Afinal, quem disse que apenas homens têm o monopólio de comandar produções medíocres iguais a esta?

Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.