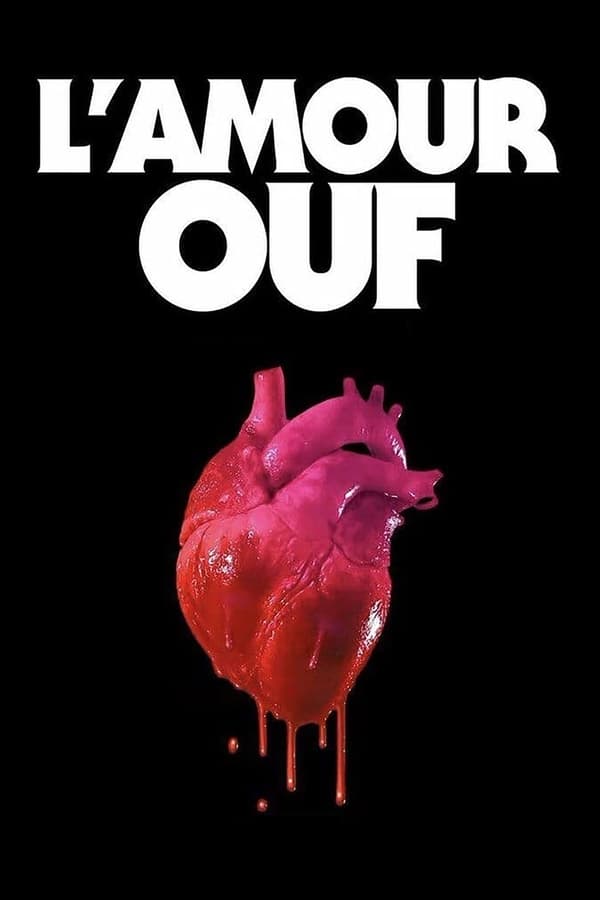Jackie é uma aluna aplicada, cujo relacionamento com o pai estreitou-se depois da morte da mãe, e que odeia violência. Clotaire evadiu a escola, tem um relacionamento problemático com o pai, embora o amor da mãe parece suprir esta lacuna, e recorre à violência porque não tem escolha contrária. São opostos, como o sol e a lua, que têm a oportunidade de se encontrar brevemente durante eclipses. E, por serem opostos, também são a melhor matéria prima que o romance conhece. Ao menos é isto o que acredita o ator/diretor Gilles Lellouche em Beating Hearts, da comédia Um Banho de Vida.
Subdividido em duas metade, após um flash-forward que apresenta ou sugere qual será o destino de um dos personagens, o roteiro de Beating Hearts é muito eficiente em estabelecer o romance adolescente, quando as brigas ou os delitos cometidos por Clotaire se tornam só as etapas do amadurecimento de um jovem que extravasa e elabora a frustração através da violência. Não é incomum, por exemplo, inclusive na idade adulta, vê-lo esmurrando ou dando cabeçada em portas e paredes, e até acontece um excesso em pintá-lo demais com esses tons. Já Jackie é o oposto, e a maneira com que coloca para fora a sua dor é através do rock ‘n roll. É um romance adolescente gostoso de acompanhar, ainda quando mais cafona (ex. o chiclete que Jackie cola na parede e bate como um coração).
Como bom cinema francês que é, o roteiro também explora o comportamento dos personagens além de individualidades, mas um como subproduto do meio onde estão: a falência do sistema educacional ou capitalismo que provoca a privatização do porto onde o pai de Clotaire trabalha são eventos determinantes, ainda que de maneira oblíqua, na definição de quem este rapaz é e será. Desse modo, a relação dos jovens com os pais – inclusive com o chefão da gangue interpretado por Benoît Poelvoorde – é um traço que determina o caminho daqueles personagens ao longo da narrativa.

Acredito haver uma questão narrativa e estrutural a ser discutida. Como um filme de crime que tenta fugir do predicado do gênero em função do amor, logo exprimindo o desenvolvimento do protagonista, é apenas decepcionante que o romance subjugue Jackie em uma personagem passiva colocada em segundo plano – a dança é a sua maneira de expressar a frustração na idade adulta. Ela se retrai em um casamento infeliz; ele abraça definitivamente a violência. Contudo, para retratar isto, a narrativa acentua a participação de François Civil (Clotaire na idade adulta) e reduz a de Adèle Exarchopoulos (Jackie na idade adulta). Se o eclipse sugeriria que a sombra lunar de Jackie fosse capaz de atenuar a intensidade solar de Clotaire, ou ao menos transformá-la em algo bom e não violento, na segunda metade da narrativa, tive a sensação de que é Clotaire quem é a sombra que afasta Jackie do futuro solar que lhe aguardava.
Enquanto isso, Gilles Lellouche emprega um arsenal formal – sem brincadeira! – para conferir à narrativa de 2 horas e 45 minutos um ritmo mais ágil. O tiroteio retratado nas sombras em um plano longo, a inversão do eixo para retratar a briga de irmãos, o whip pan (ou chicote) – um movimento que você deve levar de filmes como Cisne Negro ou La La Land -, o travelling exclamatório (a movimentação da câmera em direção aos personagens), a câmera subjetiva infravermelho ou mesmo a câmera montada em uma caixa de mudança sem motivo aparente senão o fato de que o diretor pode fazê-lo são alguns dos muitos recursos que chamam a atenção mais para o dispositivo do que para o romance. Alguns, apesar de individualmente virtuosos, sublinham apenas o que a atuação ou a situação já havia deixado óbvio. É como chover no molhado.

O momento musical, quando os personagens dançam no ginásio na adolescência, é bem-vindo para mostrar o nascimento de um amor juvenil, e gosto do fato de que Lellouche evita repetir esse mesmo recurso, em um momento em que tudo sugeriria que iria fazê-lo. É um modo elegante de revelar a maturidade daqueles personagens afastados por tanto tempo e que precisaram sobreviver sem a presença um do outro.
Beating Hearts ainda toma a decisão arriscadíssima que é propor uma alternativa ao destino dos personagens no clímax, fabulando um conto romântico que resgata a crítica ao capitalismo existente na narrativa. É uma decisão ousada, e a admiro por isto, assim como faço com a condução da narrativa por Gilles Lellouche. É um filme bonitinho, mas que poderia ter privilegiado ou ao menos não preterido Jackie em função de Clotaire.
Crítica escrita durante a cobertura do 77º Festival de Cannes.
Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.