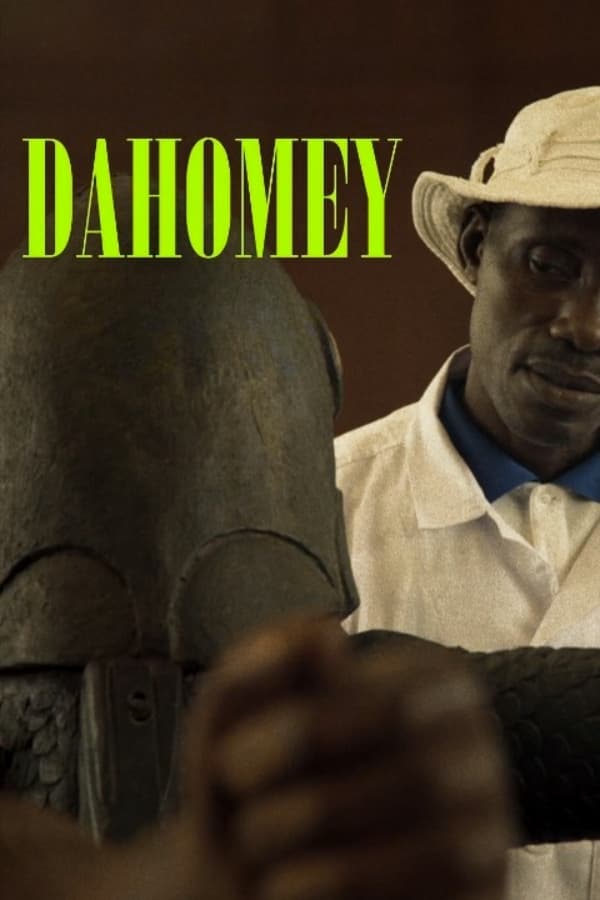Em 2021, o presidente francês Emmanuel Macron restituiu a Benin, na figura do presidente do país, Patrice Talon, 26 obras de arte saqueadas durante a colonização francesa ocorrida no século 19, no então denominado Reino de Daomé. A diretora franco-senegalesa Mati Diop, a vencedora do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2019 por Atlantique, documentou a devolução dessa minúscula fração do patrimônio histórico e cultural roubado pelos colonizadores e os reflexos disso no documentário Dahomey.
Que já inicia com uma imagem bastante significativa de torres Eiffel em miniatura, souvenirs vendidos no centro de Paris, muitas das vezes por imigrantes africanos, cujo deslocamento é o resultado de um processo histórico colonialista, dentro do qual está inserido exatamente o saque do patrimônio dos povos colonizados. É um cenário europeu ao qual Mati Diop dá a atenção devida, a mínima possível, preocupando-se sobretudo com o trabalho técnico de acondicionamento e transporte das obras de arte. Uma destas obras, em razão da escolha de enquadramento e da posição do objeto, é acrescida de um significado especial remissivo à época da escravização do povo africano.
Contudo, é em Benin que o reflexo da restituição é melhor expressado. A festa nas ruas da cidade é contrabalanceada com o melhor momento do documentário: o debate realizado por acadêmicos universitários que anula qualquer visão paternalista que o povo europeu possa ter do povo africano. É um instante pelo qual Mati Diop demonstra um autêntico fascínio, ao passear a câmera por aqueles rostos jovens e representativos de uma geração consciente e promissora. A discussão sobre a padronização do gosto construído pela arte capitalista – de Hollywood, sobretudo, e aí são citadas as produções da Disney ou Avatar – não é limitada à Benin, mas dialoga com o mundo inteiro, e o Brasil em particular, dado o preconceito que o (hipotético) espectador médio tem em relação à nosso cinema. Também é tematizado o uso de termos reducionistas que desvalorizam a arte e a cultura ao denominá-la de coisas.
Além da relação da arte com o apreciador, da rejeição da arte do ‘colonizado’ em favor da arte do ‘colonizador’ e do emprego da língua dele em detrimento do idioma nativo, há ainda uma discussão política afiada que exige o questionamento se a devolução das obras não é somente um evento político-populista, em vez do evento histórico alardeado por quem está no poder. Das mais de 7.000 obras saqueadas, só 26 foram restituídas, um contrassenso se o desejo está em restabelecer a identidade histórica através da cultura. Mesmo a cultura de museus é posta sob holofotes, ante a ausência de estímulo para a visitação de membros da população de baixa renda – a desempregada, que sofre com a fome ou a indignidade. Ora, o que são 26 peças de arte em um museu que jamais irei visitar se não tenho condições de saber qual será minha próxima refeição?

Todo o recorte no espaço universitário, inclusive o instante representativo em que Mati Diop registra um aluno tirando um cochilo, é merecedor de reflexão e uma resposta à súplica do curador do museu que clama para que apareça uma geração interessada neste trabalho tão significativo de conservação da identidade do povo. Enquanto registra os acontecimentos e realiza recortes significativamente abertos para que o espectador interprete ou meramente perceba o poder de uma imagem, Mati Diop ainda estiliza o conteúdo apresentado através de uma narração fantasmagórica, advinda de um coletivo ancestral, que preenche a tela, indaga e lamenta.
Com somente 67 minutos de duração, o documentário problematiza o fato retratado sem desmerecer a sua importância. Era urgente e imprescindível a devolução das 26 peças de arte à legítima proprietária e de onde jamais deveriam ter saído e, mesmo assim, Diop não se contenta em se limitar a esse fato e a essa constatação, mas através da câmera encontra as perguntas pertinentes que não se limitam somente aquelas peças, aquele país, mas a todos os povos, iguais ao nosso, um dia submetidos a saquead… digo, colonizadores. Ironicamente ou não, os mesmos que financiaram e produziram Dahomey e que, agora através da arte, ainda continuam a explorar os povos que ontem colonizaram.
Crítico de cinema filiado a Critics Choice Association, à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Film Critics Society e a Fipresci. Atuou no júri da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo/SP, do 12º Fest Aruana em João Pessoa/PB, do 24º Tallinn Black Nights Film na Estônia, do 47º TIFF – Festival Internacional de Cinema em Toronto. Ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Luís (MA) e Professor Convidado do Curso Técnico em Cinema do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA), na disciplina Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de Filmmaking da New York Film Academy, no Rio de Janeiro (RJ) em 2013. Participou como co-autor dos livros 100 melhores filmes brasileiros (Letramento, 2016), Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais (Letramento, 2017) e Animação Brasileira – 100 Filmes Essenciais (Letramento, 2018). Criou o Cinema com Crítica em fevereiro de 2010 e o Clube do Crítico em junho de 2020.